Assim como praticamente tudo na economia moderna, jogos eletrônicos são desenvolvidos por vários profissionais de forma escalonada. Apesar de alguns casos de trabalho serem mais artesanais, como Braid (desenvolvido unicamente por Jonathan Blow) e Stardew Valley (Eric Barone), os games são criados por várias pessoas que são especializadas em funções específicas.
A divisão social do trabalho fez que a indústria precisasse contar com artistas, programadores, designers, roteiristas, animadores, publicitários, administradores e muitos outros profissionais que direta ou indiretamente participam da criação de um título.
No caso de projetos menores, já que os recursos (vulgo dinheiro) também são inferiores, a divisão do trabalho é menos acentuada e várias pessoas acabam desempenhando muitas funções. Então, para entender como um jogo "sai do papel" para chegar até as lojas, o Voxel conversou com professores da Faculdade Méliès.

Essa é a segunda matéria para entender um pouco mais de como funciona a indústria de jogos. Nós conversamos com os desenvolvedores Rafael Lucio de Mattos e Lia Fuziy, que são professores da Méliès, e com o artista 3D Gabriel Pereira, coordenador de jogo na Méliès.
Eles explicam que há várias formas de se começar um jogo, havendo pontos fortes e fracos em cada uma das abordagens.
Como será o meu jogo?
Mattos explica que basicamente há três formas — que não são excludentes e podem se complementar — de se pensar em um jogo que se quer fazer.
A primeira delas é buscando referências, que, de acordo com ele, é um dos métodos mais comuns para quem está começando na indústria.
A pessoa gosta muito de algum título e quer fazer algo naquele sentido. Por exemplo, um jovem que é fã de Resident Evil 4 pode pensar em utilizar a visão de câmera no ombro em 3ª pessoa, a mira com retículo e o clima de terror.
“Eles [alunos] têm uma referência de jogo, e daí eu pergunto o que vai inovar, porque o legal é ter algum diferencial e não fazer exatamente uma cópia de algo que já existe”, salienta o profissional.
“A busca de referências acaba sendo um pouco mais fácil, porque, como você está ilustrando as suas ideias, fica um pouco mais fácil de outras pessoas entenderem o que você está propondo”, acrescenta Pereira.

A segunda forma de se pensar um projeto é apelidada por Mattos de “mecânica como brinquedo”. Como o nome sugere, nesse caso os criadores têm como ponto de partida mecânicas específicas, que vão sendo testadas até se chegar a um conceito final.
Os testes, inclusive, são essenciais para verificar se, na prática, as regras funcionam e se não há crashes ou bugs que atrapalham a experiência do jogador.
Porém, os professores lembram que, para escolher esse tipo de procedimento com o intuito de pensar em um game, é preciso ter domínio técnico, já que tudo se inicia a partir dos testes com engines (os motores, onde os games são programados).

O terceiro modo de se conceber um game é bastante popular entre companhias que têm bastante capital. As desenvolvedoras, e/ou publishers, realizam uma grande pesquisa de mercado para descobrir do que as pessoas gostam e o que está fazendo sucesso no momento.
“As empresas querem saber se existe uma brecha no mercado, se existe demanda para alguma ideia específica. Nesse caso, o jogo é desenvolvido com a equipe já tendo noção do público-alvo e de quem vai comprar aquele produto”, explica Mattos.
As pesquisas também dependem de conhecimento ou, pelo menos, da contratação de boas equipes. Os especialistas ressaltam que levantamentos com parâmetros errados podem levar a conclusões equivocadas, facilitando que um título seja um “flop”.
O time "tirando a ideia do papel"
Fuziy faz um exercício de lógica e brinca dizendo que, antes de efetivamente "tirar a ideia do papel", é preciso colocá-la no papel. Desde o início, é preciso escrever o processo em uma documentação que seguirá como base para tudo que virá.
Ela diz que o time precisa saber o escopo que o jogo terá. “Entender como a ideia funciona é importante para dar prosseguimento ao projeto, já que é preciso saber quais elementos são essenciais na experiência e não poderão ficar de fora, enquanto outros podem ser deixados de lado”, argumenta a desenvolvedora.
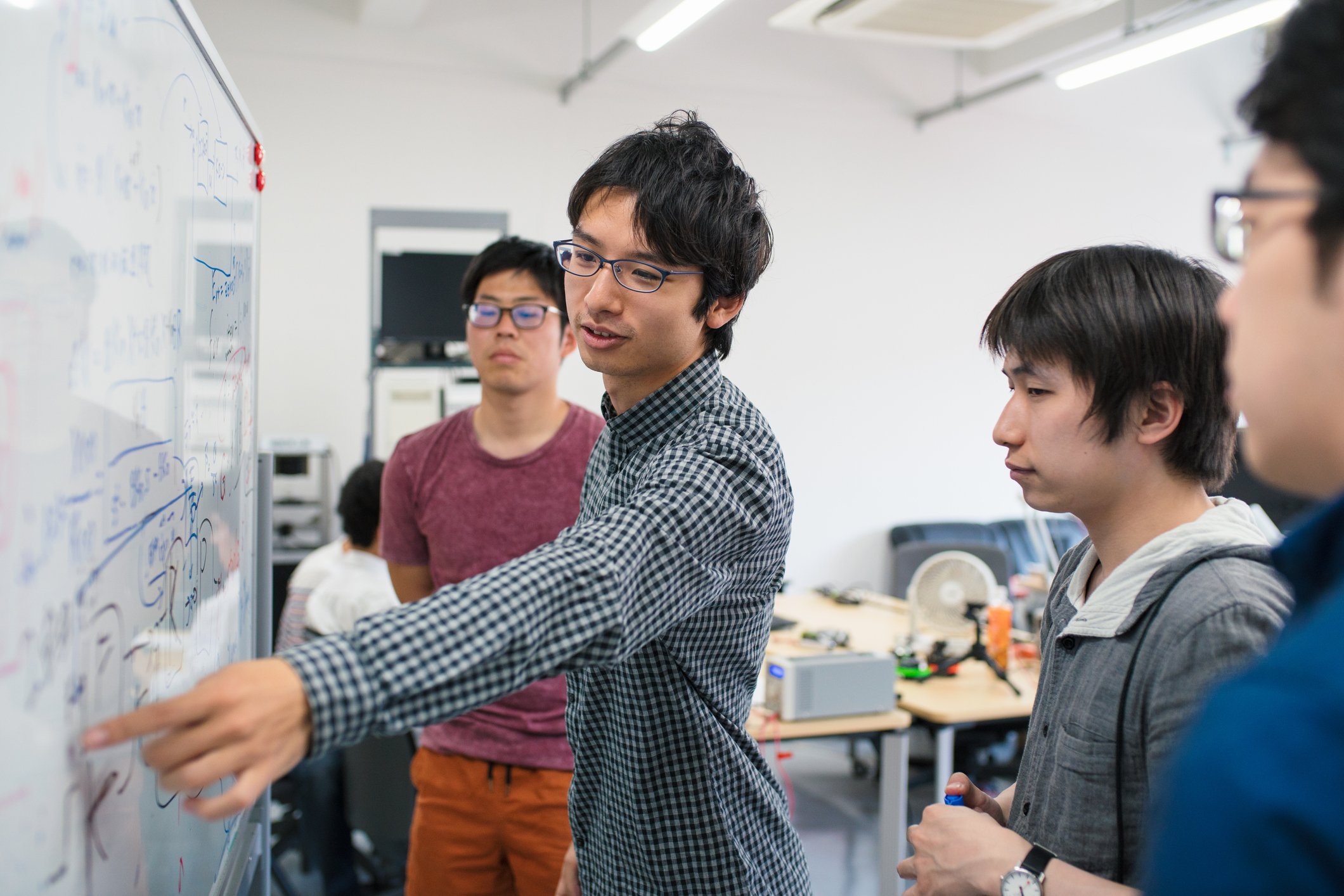
“É interessante também definir qual é o diferencial, as exigências do trabalho e suas aspirações. É comum que pensem em algo muito fora da caixa, tipo um metroidvania com 500 jogadores. Mas como é possível transformar isso em um jogo? Será que funciona? Provavelmente, não. Então é bom ter os 'pés no chão'”, complementa Mattos.
Sobre a montagem da equipe, Pereira cita e resume os profissionais e as áreas principais que trabalham em um game; veja-os a seguir.
- Design: para dar a concepção inicial e desenvolver a ideia são contratados game designers e narrative designers (se for um jogo narrativo).
- Programação: na parte de desenvolvimento, são necessários programadores e engenheiros, se precisar, por exemplo, de um engine nova.
- Arte: vai desenvolver o conceito artístico em cima da ideia; a parte do áudio (profissionais da parte de música, retornos sonoros e som ambiente, por exemplo).
- Testes: testadores para saber se a experiência que foi idealizada no início está passando a ideia, se a gameplay está adequada e os elementos estão interagindo corretamente.
- Produção: para organizar o projeto e gerenciar o time.
- Comunicação: profissionais de Marketing e Comunicação para fazer a divulgação do game ao grande público.
Priorizar história ou gameplay?
Apesar de eles existirem há algum tempo, os jogos narrativos se popularizaram bastante na última década. Life is strange, The walking dead (da Telltale), Detroit: become human, Heavy rain, Her story e Twelve minutes estão entre os exemplos desse gênero.
Com a explosão de elogios aos títulos que têm como foco a narrativa, fica a dúvida: um game precisa priorizar a história ou a gameplay? Mattos faz uma analogia para explicar o porquê de a gameplay ser mais importante do que o enredo.
“Imagina que você vai ao cinema assistir a um filme premiado no Oscar. Só que na sessão tem muita gente falando, jogando pipoca em você, o chão está molhado e o áudio está meio ruim. Pode ser o melhor filme do mundo, mas a sua experiência vai ser horrível. Para mim, os jogos se encaixam nisso. Se você tem uma excelente história, o jogador precisa viver essa história ativamente e interagir com ela. E, se a gameplay estiver ruim, ele nunca vai terminar o jogo”, exemplifica o desenvolvedor.

Os três desenvolvedores são praticamente unânimes na opinião de que o importante mesmo é ter uma jogabilidade boa e que funcione, já que o restante é complementar à experiência.
Fuziy diz que, apesar dessa hierarquia, não há regra na ordem da construção dos games. Alguns projetos têm a história inserida depois, outros nascem a partir de uma ideia de uma narrativa na cabeça do diretor.
Nesse sentido, popularizaram-se nos últimos anos games que, apesar de excelentes mecânicas, têm como foco contar uma boa história. No inglês, o conceito é chamado de story driven e conta com nomes de peso, como Red dead redemption (1 e 2), The last of us, a série Uncharted e The witcher. Na mesma leva, são incluídos os games que contam fatos do mundo real e adaptações de outras mídias, como livros e séries.
Indo ainda mais fundo no conceito, há gêneros como os “walk simulator”, em que a ideia é simplesmente colocar o jogador para andar e interagir com alguns aspectos. Mattos lembra que Dear Esther foi um dos precursores do estilo, que também ganhou nomes como Gone home, Journey, The Stanley Parable e What remains of Edith Finch.
E como arranjar dinheiro para o jogo?
Mattos argumenta que há várias formas de se conseguir orçamento para desenvolver um game. No caso de projetos menores, obviamente as opções são mais escassas. Títulos pequenos e independentes contam com dinheiro do próprio bolso dos desenvolvedores, da família ou de financiamento coletivo, ou seja, a popular “vaquinha”.
“Há também a possibilidade de financiamento das publishers [como aconteceu com Fobia, um jogo brasileiro que recebeu auxílio da Maximum Games], por meio de editais públicos ou privados e de prêmios, por exemplo. Cada um tem o seu risco e suas características”, ele diz.
Em relação aos editais, que estão entre os principais tipos de financiamento para jogos menores no Brasil, existem várias dificuldades. Uma delas é a própria concorrência, já que o game precisa se destacar em um cenário com vários outros nomes.

Mattos também revela que há editais que apresentam contratos desfavoráveis e que, por isso, é essencial ficar atento às minúcias do texto.
“Eu já deixei de participar [de editais] porque tinham contratos abusivos. Alguns, poucos deles, eram milionários, mas com cláusulas que poderiam prejudicar os estúdios. O dinheiro, infelizmente, não está caindo na mão de quem está começando”, ele defende.
Fuziy acrescenta que, além da grana, que na maioria das vezes é pouca, também falta uma preocupação maior no cenário brasileiro em incentivar a produção de games. Ela diz que é importante falar sobre gestão e administração com quem está começando, já que um empreendimento de games é como qualquer outro.

Esta é a segunda parte de uma série de matérias que o Voxel desenvolveu em parceria com a Faculdade Méliès. Confira aqui a primeira parte. Para saber mais, acompanhe a gente no Twitter, Facebook e Instagram!
Categorias















